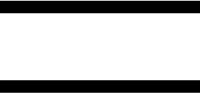OPINIÃO
- * Por Rosimere Lima
Quantas vezes ouvimos discursos sobre “respeito às diferenças” sem ver mudanças reais? O Dia do Orgulho Autista — 18 de junho — vai além de um marco simbólico: é um chamado para confrontarmos a distância entre tolerar e incluir. Enquanto celebramos a neurodiversidade em teoria, na prática, exigimos que pessoas autistas se adaptem a padrões que desconsideram suas necessidades.
A narrativa sobre o autismo oscila entre extremos. De um lado, romantiza-se a condição como “superpoderes”, ignorando a necessidade de suportes essenciais. De outro, reduz-se o espectro a “limitações”, apagando suas múltiplas expressões. O resultado? Uma falsa inclusão: pessoas autistas são “aceitas” desde que não desafiem estruturas capacitistas que privilegiam a normatividade. Essa aceitação condicional silencia vozes, nega direitos e reforça que a ideia de que o “diferente” só é bem-vindo se não incomodar. As barreiras atitudinais são um conjunto de preconceitos e predisposições contrárias à presença e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.
Mas como podemos definir o que é modelo de inclusão? O Brasil avançou com leis de inclusão, mas a implementação é falha. Na educação, escolas alegam falta de recursos para adaptações básicas, como ambientes sensoriais adequados e equipes qualificadas e suficientes. No mercado de trabalho, 80% das pessoas autistas adultas estão desempregadas (ONU, 2024). Ainda faltam mudanças das práticas para tornar o ambiente de trabalho diverso e acolhedor; que leve em conta a integração de colaboradores neurodivergentes. Não é falha individual, mas sistêmica: ambientes não foram pensados para a diversidade.
O Orgulho Autista é político. Não basta celebrar a neurodiversidade; é preciso garantir autonomia. Tecnologias assistivas, como comunicação alternativa, já comprovaram seu impacto, mas anda são inacessíveis a muitos. Enquanto isso, famílias lutam contra políticas públicas fragmentadas e um imaginário social que reduz a pessoa autista como “quebra de rotina”. O maior equívoco é tratar inclusão como “terapia corretiva”. A revolução começa quando ouvirmos pessoas autistas. Quando uma pessoa autista diz “não quero cura, quero compreensão”, denuncia uma cultura que pratica a assimilação, e não o pertencimento. Empresas com processos seletivos neuroafirmativos e instituições de todas as áreas que incluem tutores autistas são exemplos de caminhos possíveis, mas ainda isolados.
Qual é o custo de excluir? Investir em educação inclusiva reduz significativamente gastos com saúde mental, conforme a OMS. Ambientes diversos ampliam criatividade e produtividade. Ignorar isso é desperdiçar potencial humano.
Para este 18 de junho, proponho um pacto: substituir a espetacularização da neurodiversidade por ações concretas. Escolas devem adotar currículos flexíveis, empresas precisam revisar políticas de RH e a mídia, amplificar vozes autistas. Orgulho não é sobre exceções heroicas, mas sobre garantir que todos existam sem pedir licença. Inclusão real não é utopia: é escolha. E o tempo de escolher é agora.
- * Rosimere Lima é docente da graduação em Acompanhamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na UNIASSELVI