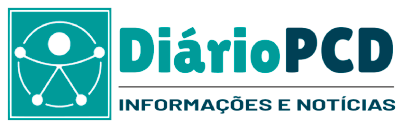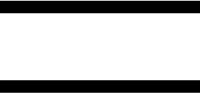OPINIÃO
- * Por Valmir Souza
A pessoa com deficiência quer inclusão, mas se exclui. A frase incomoda e deve incomodar, mas ela também carrega uma provocação necessária. A inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) é uma pauta inegociável. O acesso à educação, ao mercado de trabalho, à cultura, à política e à vida pública é um direito básico, não um favor. No entanto, quando observamos com atenção o cenário atual, percebemos que os obstáculos à inclusão não vêm apenas de fora. Eles também se manifestam dentro da própria comunidade, nos silêncios, nos conflitos de interesse e, por vezes, em gestos involuntários de autoexclusão.
Antes de qualquer julgamento, é importante fazer uma distinção: a autoexclusão não é um ato voluntário e consciente de se afastar, mas muitas vezes uma reação ao histórico de exclusão sistêmica. A exclusão ensina silenciosamente. Por décadas, a pessoa com deficiência ouviu, pelos espaços inacessíveis, pelos olhares de piedade, pela falta de representatividade, que ela não pertence. E essa mensagem, repetida tantas vezes, se torna uma barreira invisível, mas tão concreta quanto um muro.
Outro ponto delicado e pouco discutido é que nem todos os grupos vivenciam a inclusão (e exclusão) da mesma forma. Há diferentes tipos de deficiência, com necessidades específicas, visibilidades desiguais e níveis variados de acolhimento social. Pessoas cegas, surdas, cadeirantes, neurodiversas (como autistas, TDAH, disléxicos, com deficiência intelectual), entre outras, não enfrentam os mesmos desafios e nem sempre lutam juntas. É aí que mora mais um desafio.
Essa diversidade interna da comunidade é, muitas vezes, ignorada nas políticas públicas e nos discursos institucionais. E isso cria tensões reais: há uma necessidade de atenção, por recursos, por representação. O resultado, é que este grupo que deveria se unir, se divide.
Para se ter ideia do impacto disso, nas eleições municipais de 2024 no Brasil, 4.929 candidatos declararam ter algum tipo de deficiência. Desses, apenas cerca de 8% foram eleitos, o que representa uma quantidade significativa, mas ainda baixa em comparação com o total de candidatos (aproximadamente 394 eleitos). Esse resultado reflete a continuidade dos desafios enfrentados por pessoas com deficiência na política, mesmo com o aumento no número de candidatos em relação às eleições anteriores. Para dar contexto, em 2020, o número de candidatos com deficiência foi menor, mas o percentual de eleitos sempre permaneceu em níveis reduzidos. O fato é que, se reunirmos uma diversidade de candidatos pela causa como um todo e não apenas focado em um segmento, a chance de ampliar nossas cadeiras em cargos de gestão e decisão, podem garantir melhorias consideráveis na rotina de todos e não apenas de um grupo.
É importante esclarecer que as diferentes deficiências trazem demandas específicas que, muitas vezes, entram em conflito, revelando que a inclusão não é um conceito uniforme. Cadeirantes, por exemplo, costumam ter maior visibilidade devido à necessidade de acessibilidade física, como rampas, elevadores e banheiros adaptados. No entanto, uma rampa pode representar um obstáculo para pessoas cegas, que correm o risco de escorregar ou cair em uma poça, enquanto o piso tátil, essencial para a orientação dos cegos, costuma ser alvo de queixas por parte dos cadeirantes, pela dificuldade na locomoção.
Pessoas surdas enfrentam o desafio da comunicação, lidando com a ausência de intérpretes de Libras e barreiras à participação plena em ambientes coletivos. Já os cegos, frequentemente ignorados até mesmo na sinalização dos espaços, têm sua autonomia comprometida. Os neurodiversos, por sua vez, são frequentemente invisibilizados, já que suas condições não apresentam sinais físicos evidentes, o que contribui para a negação da deficiência e a falta de compreensão sobre suas necessidades específicas. Essas tensões internas mostram que, mesmo dentro do universo das pessoas com deficiência, a inclusão é complexa, desafiando soluções únicas e exigindo sensibilidade multidimensional.
Mais grave ainda: essa pluralidade às vezes gera exclusão dentro da própria comunidade. É comum ver pessoas com deficiência física descredibilizando a deficiência invisível do outro. Ou a ausência de autistas em debates organizados por pessoas com deficiência intelectual. Há capacitismo entre as pessoas com deficiência, sim e fica claro quando um grupo questiona o merecimento do outro em ocupar um espaço de fala ou uma vaga em ações afirmativas.
Ainda que as leis avancem, muitos não se inscrevem em processos seletivos, não participam de debates públicos ou não frequentam certos ambientes. E por quê? Porque já esperam não serem compreendidos. Porque já se frustraram tentando. Porque o medo de não pertencer se tornou maior do que o desejo de tentar de novo (além é claro, do medo da rejeição e dos olhares tão comuns no dia a dia).
Tudo isso é compreensível. A exclusão estrutural também gera fadiga emocional, autoimagem negativa e a sensação de que “aquele lugar não é para mim”. Esse sentimento, internalizado desde cedo, afeta diretamente a construção da autoestima e da autonomia, especialmente em um mundo onde tudo ainda precisa ser explicado, comprovado, traduzido.
A inclusão real não é apenas física, ela é cultural. E, para que ela aconteça, é necessário que o próprio movimento também se reconheça como plural, diverso e, muitas vezes, desigual internamente.
É preciso criar espaços onde todas as deficiências tenham voz, onde as demandas específicas sejam acolhidas sem competição, e onde não se exija que a pessoa com deficiência seja um exemplo de superação para merecer respeito.
As instituições, por sua vez, devem repensar suas ações inclusivas: elas não podem se restringir a cumprir cotas ou erguer rampas. Devem oferecer acessibilidade comunicacional, treinamentos para lidar com a neurodiversidade, intérpretes, materiais acessíveis, políticas de permanência e reunir forças para ouvir, incluir e respeitar todas as deficiências.
Dizer que a pessoa com deficiência se autoexclui é, em parte, verdade. Mas é uma meia-verdade. O que parece autoexclusão, na maioria das vezes, é um mecanismo de defesa ou resultado da exclusão histórica e social que essas pessoas enfrentam. Para que haja de fato inclusão, é preciso que a sociedade se transforme em um ambiente em que ela queira e consiga permanecer.
É igualmente essencial que a própria comunidade reconheça e enfrente suas divisões internas, buscando unidade e representatividade mais justa entre todos os seus grupos.
Incluir é mais do que permitir a entrada, é garantir pertencimento. E ninguém pertence onde se sente invisível, mesmo entre os seus.

(*) Valmir de Souza é COO da Biomob, startup especializada em consultoria para acessibilidade arquitetônica, digital e atitudinal; criação e adaptação de sites e aplicativos às normas de acessibilidade e captação; além de atuar na capacitação de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho